*Esta é a primeira parte do especial Infância e Refúgio, sobre crianças refugiadas na cidade de São Paulo. Nele, as crianças entrevistadas usam desenhos e outros elementos lúdicos para falar sobre o que já viveram em tão pouco tempo de vida. Os perfis são do livro Por um Pedaço de Terra ou de Paz, trabalho de conclusão de curso (TCC) na PUC-SP da jornalista Júlia Dolce Ribeiro, e serão publicados um a cada semana no MigraMundo. Os nomes das crianças nos textos são fictícios para preservar a identidade de cada uma.
Paula e Maravilha: As marcas e fronteiras das guerras dos outros
Por Júlia Dolce Ribeiro (texto e fotos)
*Especial Infância e Refúgio
Em alguns pontos de São Paulo a gente se vê estrangeiro de uma hora para a outra, ao virar uma esquina, mesmo tendo vivido aqui por toda a vida. A Rua Japurá, na Bela Vista, é um desses lugares. Entre imóveis de classe média alta, um sobrado amarelo chama a atenção, com sua porta de metal sempre entreaberta, enquanto homens de pele muito negra conversam na sarjeta em línguas desconhecidas, fumando cigarro. Ao passar por eles em direção à entrada da casa, sou educadamente cumprimentada com acenos de cabeça e ‘bons-dias’, apesar de nunca terem me visto antes, e me sinto ainda mais forasteira com a minha frieza e pressa paulistanas.
Lá funciona o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI), abrigo mantido pela ONG Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras), em parceria com as Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). Com 120 vagas, o CRAI dá prioridade aos imigrantes e refugiados recém-chegados e com maior vulnerabilidade, abrigando dezenas de crianças que se enquadram nestas categorias.
Entre elas, estão as irmãs angolanas Maravilha e Paula, com 7 e 15 anos, que desceram com desconfiança as escadas do seu dormitório para conversar comigo, a pedido da mãe, Godelina. Uma mulher alta de vestido estampado e turbante, ela acabara de me explicar o motivo da sua vinda para o Brasil em voz doce com sotaque chiado, um misto de português de Portugal com fonemas do francês.
“Muitos problemas. Eu saí por muita violência e problemas da igreja. Eu sou do Pentecostal, Igreja Cristo do Sétimo Dia. Teve uma confusão, o líder da Igreja foi condenado neste ano, eu tive que sair para proteger a vida das minhas duas filhas. Eu perdi o contato com o meu marido no dia 16 de abril de 2015, na província onde tínhamos concentração da Igreja. Aconteceu uma tragédia, tiroteio de polícia, morreu muita gente. Também perdi meu filho, que tinha quatro anos e tá em vida, se Deus quiser, tá em vida ainda… No dia 20 de agosto ele vai completar cinco anos. Não tenho contato com ele ainda, nem sei se ele está com meu marido. O nome dele é Patrício”, contou, com tristeza e esperança.
Segundo websites angolanos de notícias, no dia 16 de abril de 2015 houve um massacre, protagonizado pelas forças militares e policiais da Angola, que causou a morte de centenas de fiéis da seita adventista do sétimo dia “Luz do Mundo”, fundada pelo Pastor José Juli-no Kalupeteka. Milhares de fiéis se encontravam em um acampamento religioso no Monte Sumi, na província do Huambo, quando foram atacados, sob ordens do governador da província. A versão do governo confirma o assassinato de apenas 13 fiéis, em reação ao assassinato de nove policiais por discípulos de Kalupeteka. O pastor, que era acusado de desobediência civil e de promover fanatismo religioso e ódio, foi condenado à prisão em abril de 2016.

Godelina conta que quando regressou à Luanda, capital do país, onde vivia com sua família, viu que a polícia estava aguardando em sua rua. “Estávamos na província vizinha, eu pensei que quando chegássemos em casa iríamos encontrar meu marido e meu filho, mas não encontramos ninguém. No dia 20 de abril a polícia apareceu na minha casa para deixar uma convocatória para eu me apresentar em uma investigação criminal. Eu não tinha forças, meu marido não estava”. Alguns meses depois, ela fugiu para o Brasil de avião com as filhas e a ajuda de um amigo, chegando ao Rio em janeiro de 2016.
A Guerra Civil Angolana teve fim em 2002, após 27 anos de conflitos que marcaram o período pós-independência do país e alimentaram inclusive a Guerra Fria, com a disputa de poder entre os antigos movimentos anticoloniais, como a União Nacional para Independência Total da Angola (UNITA), o Movimento Popular de Libertação da Angola (MPLA), a Frente Nacional de Libertação da Angola (FNLA) e a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC).
No entanto, as consequências da guerra são refletidas no legado de violência que envolve a administração pública, os empreendimentos econômicos e as instituições religiosas angolanas na luta pelo poder territorial. Os complexos conflitos geopolíticos ainda não são compreendidos pelas filhas de Godelina, embora elas carreguem no corpo e na memória suas marcas: além de terem perdido o pai e o irmão mais novo no conflito da Igreja, Maravilha teve, no mesmo dia, sua boca bombardeada por estilhaços de granada.
“Ela foi vítima de um acidente que aconteceu naquela data, a pequenininha, a boquinha dela tava fechada assim, só tinha um lábio. Para comer era muito difícil. Foi uma granada que acertou ela”, continuou a mãe. Na data do meu primeiro encontro com a família, Maravilha havia sido operada há apenas duas semanas, no dia 2 de maio de 2016, no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus.
A menina teve sua boca reconstruída, embora a cicatriz ainda fosse bastante perceptível e ela ainda escondesse os lábios automaticamente com as mãos ao se comunicar, como costume. “Quando ela chegou na escola tinha vergonha da boquinha dela, quando perguntavam o que tinha acontecido ela chorava. Mas o professor ajudou a fazer uma carta, colocaram na ficha dela e a levamos no médico. A operação foi rápida e de graça”, disse Godelina.

Maravilha, um apelido comum em alguns países africanos, é uma garotinha pequena e carinhosa, que usa elásticos coloridos em cada ponta do cabelo trançado. Ela tem se saído bem na escola pública em que está matriculada. Em quatro meses aprendeu “a fazer leitura”, algo que nunca havia conseguido na Angola pois, segundo a mãe, o ensino era muito limitado e a professora brasileira a ajudou com todos os sons do alfabeto. “Falou para eu acompanhar ela em casa, ela tinha que estudar três vezes por dia. Um mês depois conseguiu ler. Ela fala português melhor que eu, parecendo brasileira”, conta Godelina, orgulhosa.
A menina gosta de cantar no coral da igreja aos sábados e diz que quer ser bailarina. Ela diz que sente falta de brincar com suas amigas na escola em Luanda e que sua música favorita é “Ana Beatriz”, provavelmente se referindo à cantora gospel brasileira. Ficou com vergonha quando pedi para cantar para mim, mas depois de ter começado, deixou de lado a mania de cobrir a boca e não quis mais parar, embora a irmã mais velha repetisse insistente que já era hora das duas dormirem. “Calma, eu vou cantar rápido”, e cantou, terminando com um abraço de boa-noite.
Paula, por sua vez, já não guarda mais o encantamento da infância. Provavelmente bem mais marcada pelas memórias da violência, ela resistiu em responder as perguntas, desconfiada e tremendo de frio com seu vestido fino e chinelos na noite gelada. “Não vai demorar, né?”. Respondi que não havia problema se ela subisse para o quarto, mas alguns minutos depois ela retornou. Alta, magra e monossilábica, ela disse que está gostando do país, que sente falta das amigas na Angola, com quem não fala mais, e que esperava que o Brasil fosse diferente. As respostas ganharam volume quando perguntei sobre sua escola e comentei que sua mãe havia me contado sobre as perseguições que estava sofrendo lá.
“As pessoas são racistas. Não é que eu sinto que tem racismo; tem racismo. Tem só brasileiro na minha escola, mas o racismo é porque sou negra, não porque sou da Angola. Já me xingaram de negra e de suja. Eu falei com a escola, falaram com o menino e ele parou… Mas… Fora da escola eu me sinto isolada”, contou, sem que eu perguntasse, como se quisesse falar sobre isso há bastante tempo. “Na Angola eu saía da escola, tinha as minhas amigas, ia passear. Agora eu saio da escola e tenho que voltar para casa. Ainda não passeei por São Paulo, de noite dá medo”.
Ela acredita que foi melhor ter vindo para cá, mas não comenta sobre o ocorrido na Angola, destacando apenas que “foi muito triste” e que não consegue falar sobre o assunto. A rotina diária das irmãs se resumia em ir para a escola e voltar para o abrigo, onde faziam as lições de casa juntas e frequentam algumas das atividades propostas. Paula também fez um curso de informática disponibilizado pelo Sefras. A mãe conseguiu um emprego de auxiliar de cozinha através da ONG e voltava para o abrigo apenas de noite.
Embora a vida no abrigo fosse instável, a família já viveu situação pior no Brasil, chegando a dormir na Rodoviária do Tietê e a morar por alguns dias debaixo do viaduto da Rua Pedroso, em barracos de papelão. “Era uma casa embaixo do viaduto. Era muito abafado, não tinha condições. As pessoas de rua iam para lá no frio, não estava dando certo. Aqui é melhor”, explicou Godelina. Segundo Paula, uma senhora abrigou a família por um tempo após chegarem em São Paulo e as levou para a Cáritas. Mas os abrigos estavam lotados, e a família teve que dormir na rua por um tempo até conseguir vaga no CRAI.
Com as coordenadas das servidoras do abrigo, Godelina fez a solicitação de refúgio na Polícia Federal e tirou o documento de trabalho. Agora, a família aguarda com o protocolo de refúgio a decisão do CONARE. “Quando cheguei não conhecia ninguém, mas vi um grupo de pessoas vindo para São Paulo, então segui ele. Eu pensava que o Rio era a capital do Brasil. Quem ajudou a gente foi a senhora e o marido dela, que nos acolheram. Eles são… Como chama? Aqueles que vestem aquela roupa assim, e que o Deus dá muita confusão, mata muitas pessoas… Muçulmanos, acho. Eles me contaram tudo, como fazer. Eles sempre me ligam e sempre iam me visitar”, disse a mãe.
“Gostei do Brasil, porque na minha mente, não contava que um dia ia viajar para cá. Mas Deus é Deus, e hoje estou aqui. O Brasil é grande, grande, muito grande. Muita população também. O brasileiro é muito legal, simpático. Quando eu tava em Luanda estava a assistir aquele canal do Zap, que apresenta muitos programas daqui, como novelas e notícias. Sempre gente matando, roubando as outras pessoas. A gente tinha medo do Brasil, não contava que um dia ia chegar aqui. Mas chegou. Desde que cheguei vejo muita violência na televisão, mas nunca vi um roubo nem nada. Não sei se depende do bairro… “ contou Godelina, completando que não está muito interessada na televisão. “Na minha cabeça tenho que ajudar as crianças a estudarem e só”.
O objetivo não é à toa; Godelina estudou apenas até a oitava série, por conta da guerra civil na Angola e do ensino patriarcal. “As meninas só ficavam limpando e os rapazes podiam estudar. Eu estudei depois de crescida para saber ler, ter noção. Já estava na casa do meu marido. Trabalhei como auxiliar de cozinha por um tempo na Angola, depois tinha sido costureira, porque minha mãe me ensinou a fazer roupas. Aprendi a falar o francês quando trabalhei como doméstica na casa de um francês. Na Angola tem muita empregada doméstica. Eu quero muito que elas façam faculdade aqui, Deus ajuda para que elas tenham faculdade. Mas a vida é assim, né. Todo país tem rico e tem pobre, e um tem que ajudar o outro. Se você é deputada, tem que trabalhar o dia todo e precisa de alguém para cuidar da sua filha, o pobre tem que vir ajudar. É assim mesmo”, explica.
Paula tem diferentes sonhos e ainda não decidiu o que gostaria de fazer no futuro. A mãe revelou que ela gostaria de seguir o curso de medicina, mas que também quer ser modelo, sonho alimentado constantemente por todos que a conhecem e elogiam sua altura e estrutura óssea. “Eu gosto de moda, amo moda. Uma moça assistente social disse que vai me ajudar a ser modelo, mas eu não sei quanto tenho de altura. Também queria ser aeromoça. Eu andei a primeira vez de avião vindo para cá e não tive medo, gostei” disse a adolescente. Já Maravilha, segundo a mãe, só pensa em cantar: “Ela fala que vai ser cantora, e ela canta muito. Se você tá procurando o telefone, ela já levou para o canto e começou a cantar nele, inventando canções. Quando vai escutar vê que ela cantou muito bem”.
Quando voltei ao abrigo pela segunda vez, Paula, já menos desconfiada, me contou que visitou o Sesc Pompeia e o Museu de Arte Contemporânea (MAC) com assistentes sociais, e que havia viajado para um acampamento no interior com a igreja evangélica que a família frequenta em São Paulo. Mais animada, ela olhava para o celular de cinco em cinco minutos e explicou que havia arranjado uma nova amiga. “Eu era sozinha na sala, a única angolana, mas ontem uma outra angolana que acabou de chegar no Brasil veio na escola e está estudando comigo na oitava série. To muito feliz agora. Melhorou muito, porque a gente conversa… É bom ter alguém, as pessoas são um pouco diferentes aqui”.
No segundo encontro, o abrigo estava todo enfeitado com bandeiras de festa junina e os imigrantes e refugiados se preparavam para uma apresentação musical que aconteceria na sala onde costumam assistir a televisão. As crianças, de diferentes nacionalidades e idades, corriam pelo abrigo brincando e me olhavam com curiosidade enquanto eu conversava com Paula. As mais novas ficaram deslumbradas com o gravador e a câmera fotográfica, e tiravam dezenas de fotos, gargalhando de felicidade simplesmente ao ouvir o ‘click’ do botão sendo apertado.
Paula revirava os olhos do alto de sua adolescência, como quem precisasse de um pouco de privacidade, e perguntou mais uma vez o que faria com a entrevista. “Você vai imprimir as fotos que eu tirei com a câmera?”.
– Sim, essa é a ideia.
– Não sei se quero isso.
– Tudo bem, não vou colocar no livro então.
– Vai ser um livro mesmo? Um livro de histórias?
– Sim, com a história de algumas crianças refugiadas…
– … Não faz mal, não. Pode imprimir. Quantas páginas você já tem?
– Umas quarenta…
– SÓ?!?! Vai dar tempo?
– Espero que sim, hahaha. Você gosta de ler?
– Tem um livro favorito?
Nesse momento ela sorriu em catarse. “Eu tenho um livro favorito, mas é da escola, de língua portuguesa, com poesias e histórias passadas da Angola. Você pode copiar né? Pode colocar no livro ou tirar uma foto das páginas, você vai achar bem interessante. Tem a história de um chefe que maltratava os imigrantes e a história do búzio, que é sobre um senhor que morava em um búzio, à beira do mar. Você vai ver, é interessante, e daí escreve no livro”, disse, soltando as palavras rapidamente e subindo para pegar o livro.
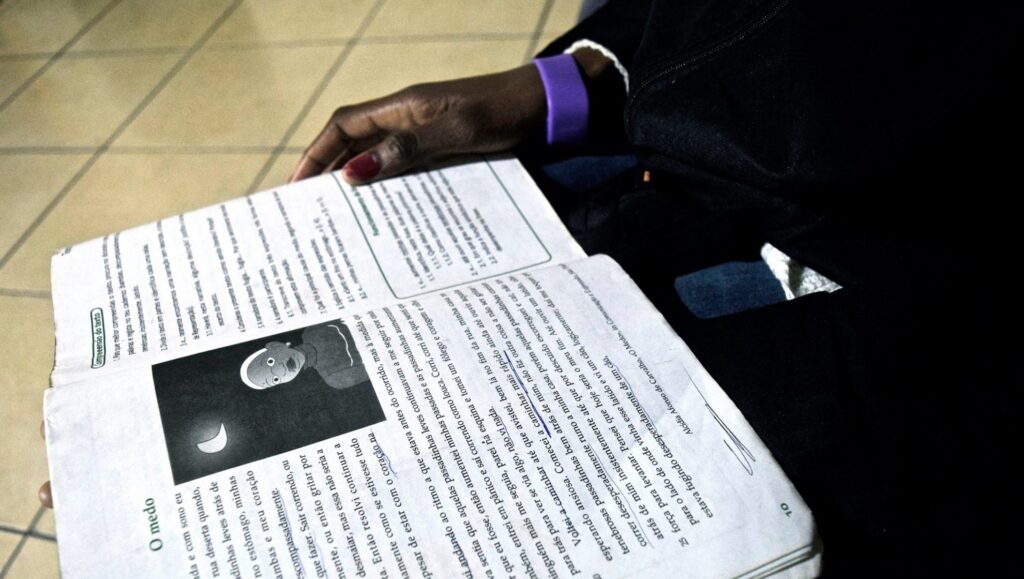
Em pausas e com certa dificuldade, Paula leu o livro didático rasgado e amassado, que trazia na capa uma máscara africana sob o título: Língua Portuguesa – Manual do Aluno: 1o Ciclo do Ensino Secundário. Entre um parágrafo e outro dos contos lidos em seu sotaque chiado, a menina parava para me explicar o significado de palavras típicas angolanas. A cada história e poema, repletos de moral sobre a importância das mulheres manterem seu papel recatado, os efeitos do álcool e as consequências de governos ditatoriais, ela parecia mais envolvida.
“Essa é a história do Mbanga Mussungo, explica a lenda de um senhor que era grande, grande em tudo, na ostentação e na crueldade. Era muito mal, ele sentava na cadeira e espetava duas varas nos corações dos escravos. Muito interessante”, conta. Perguntei se ela sabia explicar o que está acontecendo na Angola hoje, ao que ela respondeu que “cada pessoa tem os seus problemas”.
– Qual o nome do presidente da Angola?
– José Eduardo dos Santos.
– E no Brasil, vocês sabem o que tá acontecendo agora?
– Não…
– É complicado.
– Tem a Dilma. Tem muita gente protestando na rua, já vi aqui na frente. Fica um monte de barulho…
Ela voltou a atenção para o livro. “Vou ler mais esse, tudo bem? Ai, assim vou acabar lendo o livro inteiro. Fazia tempo que não lia. Lembrei que tava com saudade – disse, rindo – Esse livro é bem velhinho, bem velhinho mesmo, mas eu guardo”. O livro, já lido e relido a ponto dela saber de cor o nome de todas as histórias, é um dos únicos objetos que a menina trouxe para o Brasil.
Godelina, Paula e Maravilha não têm quase nada em que se apoiar aqui. Muito religiosas, acreditam que a vida é uma eterna luta entre o “Satanás” e Deus, e depositam no último as esperanças de conquistarem seus sonhos. “A vida é assim, Deus quer por nós, mas o Satanás quer contra nós. Ontem você tinha uma vida melhor, depois o Satanás pega tudo”, me revelou Godelina.
Essa disputa eterna entre o bem e o mal, tão simbolizada pela sua religião, continua regendo a vida da família aqui em São Paulo. Na última vez em que visitei Paula e Maravilha, seu Deus parecia estar vencendo. Encontrei as duas perto da Estação Artur Alvim do metrô, onde Godelina havia conseguido alugar um aposento só para elas – algo que, depois daqueles que perderam para a violência, afirmavam sentir mais falta.
“Aqui eu quero ter minha casa também, porque viver com uma multidão de pessoas é difícil, cada pessoa tem seus problemas. No abrigo tem haitianos, nigerianos, congoleses, pessoas do Guiné-Bissau e do Benim. É difícil, mas já estamos habituadas”, dissera Godelina, na primeira entrevista.
Impaciente, após minha demora para descer no ponto de ônibus que beirava a comunidade onde hoje vivem, Paula ficou incrédula quando eu disse que não conhecia o lugar, explicando que São Paulo é enorme e não é possível conhecer todas as ruas ou bairros. “Você nunca tinha vindo aqui?!”, questionou, em choque.
Deixei um livro de contos brasileiros com Paula, que o recebeu com curiosidade, depois de ter me contado em outro encontro que ainda não havia lido nenhuma história sobre o Brasil. Recebi um abraço apertado da pequena Maravilha e voltei para a zona oeste de São Paulo, que poderia muito bem ser outro país em distância socioeconômica, da onde, talvez, eu seja menos estrangeira. Acho que, aos poucos, Paula está começando a entender e questionar essas novas fronteiras, ainda mais difíceis de serem ultrapassadas.



[…] Por Júlia Dolce Ribeiro (texto e fotos) * Especial Infância e Refúgio […]