Leia o artigo em espanhol
Leia o artigo em inglês
A Penitenciária Feminina da Capital (PFC), na zona norte de São Paulo, conta atualmente com mais de 500 mulheres. Entre elas há imigrantes que, em sua grande maioria das vezes, foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. E uma parte dessas histórias pode ser conhecida pelo livro “Nosotras”, recém-lançado pela Editora Pluralidades.
Escrita pela jornalista Ana Luiza Voltolini, a obra conta a história de três mulheres imigrantes presas na PFC e as razões que as fizeram chegar lá. Além disso, permite um zoom sobre uma série de questões que permeiam o cotidiano das mulheres em conflito com a lei.
O livro é fruto da experiência que Voltolini teve no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), organização de Direitos Humanos que luta pela erradicação da desigualdade de gênero, pela garantia de direitos e pelo combate ao encarceramento em massa.
Nos cinco anos em que atuou pela ONG, Voltolini conheceu a história e a realidade de diversas mulheres em cumprimento de pena através de visitas a penitenciárias femininas e no atendimento feito no instituto.
Entre escutas e revistas
A Penitenciária Feminina da Capital funciona ao lado antigo complexo penitenciário do Carandiru, que mais tarde deu lugar ao Parque da Juventude. Na PFC estão presas 564 mulheres, entre elas muitas imigrantes de diversas nacionalidades – as quais variam, na maioria das vezes, de acordo com os contextos políticos e socioeconômicos dos países de origem.
Apesar da concentração de diferentes nacionalidades nas penitenciárias do Brasil, pessoas de certos países de origem acabam sendo mais vigiadas, consequência do racismo estruturante das instituições.
O livro, escrito em 2015 e publicado em 2020, narra a história de três bolivianas, Angélica, Aurora e Domitila, na PFC e os motivos que as levaram até lá. Os nomes fictícios preservam suas verdadeiras identidades e homenageiam três das cinco mulheres que derrubaram a ditadura militar na Bolívia em 1978. Entre elas, Domitila Barrios de Chungara, que foi presa grávida, torturada e perdeu seu filho na prisão.
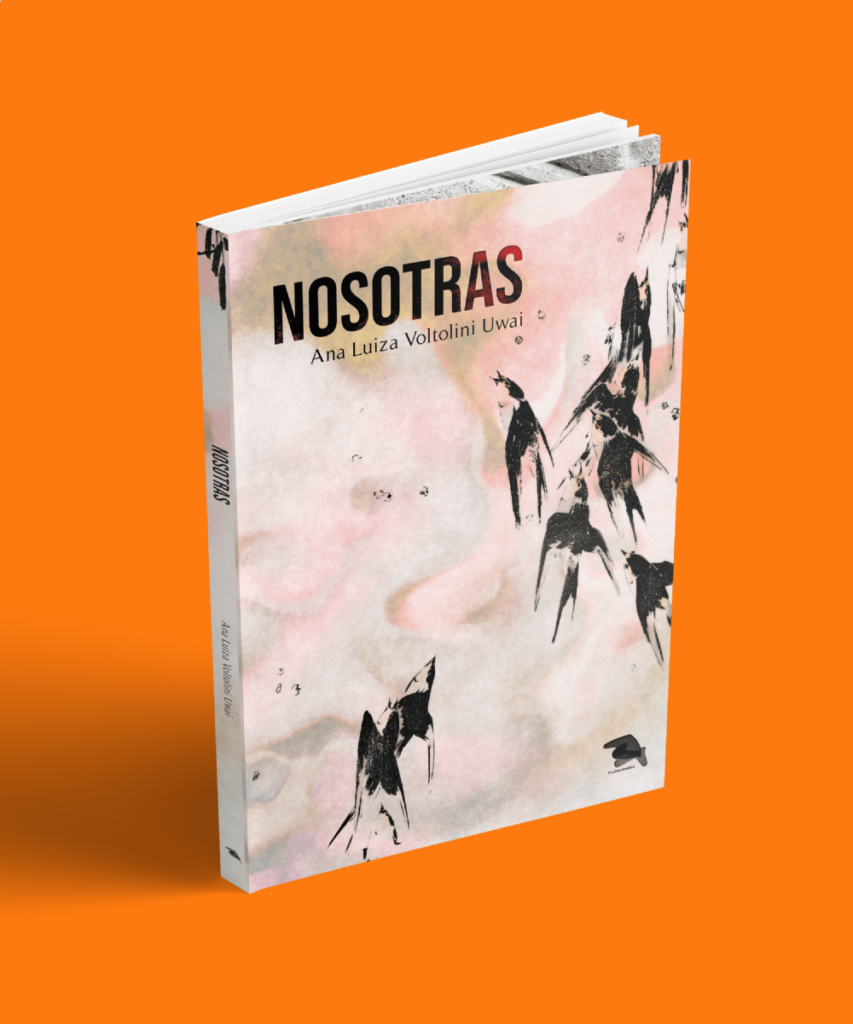
(Foto: Divulgação)
Entretanto, segundo a autora, pessoas de certas nacionalidades costumam ser mais vigiadas ao entrarem no Brasil. “O racismo estruturante das nossas instituições, que coloca sob suspeita principalmente pessoas de países do continente africano e, entre os países da América Latina, a Bolívia” escreve na introdução do livro.
Jornalista de formação, Voltolini se viu sem seus instrumentos de profissão ao entrar na penitenciária, onde teve seus bloquinhos e seu corpo revistado. Deste modo, para poder contas essas narrativas, a autora precisou decorá-las. O processo, segundo ela, “não foi entendido como um movimento mecânico, mas como sua origem define: o ato de colocar no coração”.
Três histórias, três mães
Além da nacionalidade, as três mulheres têm em comum o fato de terem de lidar com a questão da maternidade em uma situação de cárcere judicial.
A primeira história contada é a de Angélica, que aceitou vir até o Brasil para depois pegar um voo até a Geórgia, onde seu pai estava preso por tráfico. Pai e filha viram nessas viagens a oportunidade de acabar com as dívidas que a família estava acumulando. Angelica fez a viagem grávida e foi pega no aeroporto, como a maioria das imigrantes presas em São Paulo. Sua condenação de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão foi dada por um juiz que nunca a encontrou.
Para evitar que seu filho fosse levado a um abrigo por não ter conhecidos no Brasil que pudessem cuidar dele, Angelica entrou com o pedido de prisão domiciliar com a ajuda da Defensoria Pública da União (DPU) e do ITTC. O juiz, no entanto, negou-lhe o direito, alegando que Angelica era uma “ameaça à ordem pública” e que estaria colocando próprio filho em risco, pois poderia ser cooptada pela “organização criminosa” novamente.
Ao nascer, Joshua ficou com a mãe até os 6 meses de idade quando, por intermédio do Consulado boliviano a mãe de Angelica foi buscá-lo. O pai do menino, apesar de estar morando no Brasil, abre mão da paternidade e nunca mais volta a ajudar mãe, filho e Luana, a outra filha do casal.
A segunda história contada é a de Aurora. Ao contrário de Angelica, Aurora foi presa em um ônibus em Corumbá e descobriu a gravidez quando já estava presa. Por estar grávida, tem o direito de cuidar do filho fora da cadeia. Aos 5 meses de gravidez, aguarda uma decisão judicial.
Domitila é a terceira mulher retratada no livro. Após meses em reclusão, conseguiu contato com sua família em Cochabamba e descobriu que a seus filhos tinham sido levados para um abrigo por conta da piora da saúde de sua mãe. Quanto ao marido, ele estava desempregado e sem ajudar na casa, essa foi a última vez que se falaram.
Quando foi presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, já sabia que estava grávida, mas o atendimento médico da penitenciária demorou para atendê-la e entendê-la. Depois de horas de espera para o parto e diversos momentos de negligência e mal tratos, Jeremy nasceu. Domitila requisitou transferência para a PFC ao saber que a unidade contava com um Pavilhão Materno-Infantil, que todas as mães presas ocupam junto a seus filhos e filhas.
Depois de mais de um ano presa, foi concedido à Domitila o direito de cuidar de seu filho fora da penitenciária. Mãe e bebê passaram a morar em uma Casa de Acolhida, onde junto de outras bolivianas tem se “sentido um pouco mais em casa”.
Maternidade atrás das grades
Entretanto, o que aconteceu com Domitila, apesar de ser lei, não é comum. “Sinceramente, esse direito é bastante negado a todas as mulheres mães presas, sendo brasileiras ou migrantes. Geralmente, os juízes negam fundamentados em critérios subjetivos, que não estão na lei, e que muitas vezes têm por trás motivações machistas e racistas” comentou Voltolini em conversa com o MigraMundo.
Por outro lado, muito do que se relatou nessas três histórias é a realidade de muitas outras mulheres presas. Ao falar do pai dos filhos de Angelica que nunca pagou pensão ou assumiu a criação das crianças, mas que sempre frisou que ela era “uma mulher ruim, uma má mãe”, a autora está expondo o abandono e as duras críticas sofridos por essas mulheres
“Quando uma mulher vai presa, ela não é julgada só pelo crime que ela supostamente cometeu, mas por ser uma mulher cometendo um crime” observou a autora.
“Quando um homem vai preso, geralmente quem lida com o que ficou do lado de fora são mulheres: mães, esposas, filhas. Quando é uma mulher que vai presa, justamente por esse julgamento “extra”, de ser uma mulher cometendo um crime, são outras mulheres que precisam dar conta, seja a mãe, uma vizinha, uma amiga. As filas de visita das prisões masculinas são geralmente maiores que as filas das femininas. Para as mulheres migrantes, isso é mais difícil porque a maioria delas estava em trânsito quando foi presa aqui no Brasil, então as famílias estão no país de origem” explicou a autora em conversa.
“Pra mim, quando a gente ainda sobrepõe questões de gênero, raça e classe isso fica ainda pior” complementou.
Literatura como denúncia
Em conversa com o MigraMundo sobre seu livro, Voltolini falou sobre o intuito de sair um pouco do jornalismo tradicional e contar as histórias do ponto de vista único das mulheres que sofreram tais violências. Para ela, buscar imparcialidade nesse contexto através de entrevistas com os atores institucionais responsáveis por essas violências seria uma nova violência, uma vez que essas mulheres são sempre silenciadas ou desacreditadas.
A intenção foi relatar o que essas três mulheres quiseram que fosse contado e, ao mesmo tempo, denunciar a naturalização da violência que há da própria existência da prisão e tentar discutir os motivos que a permitem. “Qual a função social dela, hoje, se não mais uma forma de genocídio de uma população sistematicamente marginalizada, seja migrante, latina, negra, LGBTIQA+?” indagou.
“Este livro dificilmente mudará diretamente a realidade que tenta transpor em palavras. No entanto, não deixa de ser um mecanismo de registro para que outras pessoas as conheçam, se reconheçam e um espaço de denúncia para quem também pode tentar mudar o curso dessas e de outras trajetórias” escreve no epílogo de seu livro.
Situação das prisões femininas no Brasil
De acordo com o Infopen 2019- Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias -, no final do ano, 36.929 mulheres estavam encarceradas no país, o equivalente 4,94% da população penitenciária brasileira de 748.009 pessoas. O número garante ao país a posição de terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China respectivamente.
Enquanto mais da metade dos homens está preso por crimes contra o patrimônio, 50,94% das mulheres presas cumprem pena por envolvimento com drogas.
Quanto às africanas presas no Brasil, as nacionalidades mais frequentes são sul-africana, angolana e queniana respectivamente. No que diz respeito às encarceradas de origem americana, 37,34% são bolivianas, em segundo lugar, com menos da metade, vem as venezuelanas, representando 17,2% das presas.
*Venha ser parte do esforço para manter o trabalho do MigraMundo! Veja nossa campanha de financiamento recorrente e junte-se a nós: https://bit.ly/2MoZrhB
*Gostaria de receber notícias do MigraMundo diretamente em seu WhatsApp? Basta acessar este link e entrar em nosso grupo de distribuição de conteúdo


